Slavoj Žižek: Velhacaria Hipster

Vamos começar repetindo o ad hominem do título: Žižek não é muito mais do que um entertainer. Como filósofo, não passa de um aldrabão.
No entanto, os fatores que o impulsionaram à fama não se limitam ao carisma ou à habilidade emocional de manipular as expectativas do público. O verdadeiro culpado é a complacência generalizada no campo que costumamos chamar de “humanidades”, uma leniência que o Caso Sokal expôs de forma brilhante.
O próprio Lacan afirmou que seus escritos não deveriam ser compreendidos pela razão, mas lidos como se produzissem “um efeito iluminador semelhante ao dos textos místicos”. Sua estratégia obscurantista parece consistir em uma sucessão infinita de epifanias impulsionadas por pura apofenia, combinadas com a apresentação contínua de dissonâncias cognitivas mal disfarçadas — tudo projetado para criar um simulacro de experiência religiosa.
Assim, o vazio existencial e a expectativa espiritual do ouvinte são perpetuamente preenchidos por uma confabulação circular — um tipo de “jargão crepuscular” ou duplipensar, que muitas vezes significa exatamente o oposto do que parece afirmar explicitamente. Isso vem acompanhado de referências incestuosas ao jargão psicanalítico, à própria filosofia e, a partir dos anos 1990, especialmente à cultura pop.
O resultado é uma mistura de piadas internas, trocadilhos de gosto duvidoso e puro nonsense sobre o significado real das fontes originais. Tão meta... No início, essa falta de base epistemológica pode até parecer libertadora. Mas o obscurantismo, no fim das contas, falsifica o que poderia ser genuinamente profundo — uma dinâmica que explica tanto seu apelo quanto sua tragédia.
O espírito divino e o malte dos deuses/a boca da sarjeta e a violência doméstica
O abuso da linguagem cometido por Žižek e seus cúmplices lembra a falácia “se-por-uísque” — uma tática relativista na qual nunca fica claro se uma tese está sendo defendida ou atacada. Isso se mistura com uma linguagem carregada, formando o que poderia ser mais precisamente chamado de “sensacionalismo filosófico”.
Some-se a isso os caprichos pós-modernos popularizados por Camille Paglia em Personas Sexuais e por David Foster Wallace — embora se possa argumentar que tudo isto começou com Roland Barthes (caso não queiramos retroceder até Sterne). Essa tendência, que já pode ter sido tão usada que começa a sair de moda, envolve a fusão de pesquisa acadêmica com referências culturais populares, entregues com um efeito nerd e irônico. Como se o TikTok desse as mãos ao JSTOR. Além disso, há a mistura de conceitos supostamente elevados com humor grotesco, violência e insinuações sexuais. Esse truque busca produzir tanto uma “profanação profunda” quanto uma “iluminação vulgar” — uma versão reality-show da academia.
Os defensores de Žižek podem argumentar que, assim como o profeta Lacan, ele não tem uma tese ou filosofia clara, mas sim um modo de ser — uma práxis intelectual de performance pública, uma espécie de “stand-up filosófico de choque” como forma de vida. Mas isso não exatamente justifica um pouco a crítica ad hominem? Muitos acreditam que um ataque ad hominem é sempre falacioso. No entanto, se não há argumento, tese ou posição racional para debater, tudo o que resta é atitude, performance — “o homem conduzindo seu pequeno espetáculo de vaudeville”. E um ato essencialmente pessoal não é imune a ad hominem, mesmo que seja rotulado de “filosofia”. Num caso assim, a crítica ad hominem não apenas se justifica, mas se torna a resposta mais apropriada.
Além disso, criticar as ideias de Žižek inevitavelmente leva a espelhar sua abordagem — libertando conceitos de qualquer âncora ou padrão, onde até mesmo o horror da violência étnica se torna “o sagrado” e vice-versa. Se choca, está valendo. Mas devemos seguir esse caminho ou simplesmente chamá-lo de charlatão? Ora, é o próprio abandono da filosofia por parte de Žižek que torna a crítica ad hominem um quod erat demonstrandum. Sua pose de showman demanda uma resenha, não um contra-argumento racional.
Quando Žižek parece querer dizer algo, geralmente chega à conclusão mais abominável possível, apresentada como uma twist Além da Imaginação — uma transubstanciação da ansiedade neurótica cotidiana em um medo falso hiper-normalizado, uma metamorfose da lógica contraintuitiva autoelogiosa em um momento de conexão entre público e performer, atingindo o êxtase intelectual do absurdo.
Em determinado momento de uma palestra, Žižek brinca, como comissário de um regime totalitário:
“Anotem os nomes das duas pessoas que saíram da sala antes do fim da palestra. Talvez precisemos interrogá-las depois.”
Seu maior prazer parece estar justamente nesta incerteza epistêmica um tanto sádica. “Oh, é irônico, mas e se... não, ele deve estar brincando — brincando sobre brincar com o totalitarismo...” Fumaça e espelhos. Não há nada além das “cócegas mentais” que provoca na plateia imatura.
Isso me dá um tique-tique nervoso
Muitas pessoas envolvidas em filosofia parecem sofrer de uma condição descrita na medicina tibetana como distúrbio de rlung (prana em sânscrito) — um fluxo altamente incoerente de “ventos sutis”, ou um “movimento” incessante no sistema nervoso. É um clássico dilema do ovo e da galinha: essas pessoas se interessam por masturbação conceitual porque têm esse distúrbio (ou seja, estão doentes), ou o distúrbio é causado por esse interesse? Na realidade, as duas coisas se complementam e se reforçam mutuamente.
Quando estudei filosofia, um dos professores via moscas volantes, que costumava confundir com moscas de verdade. Ele começava a falar e, de repente, começava a mover as mãos no ar, tentando capturar ou espantar as "moscas" — até que, depois de um tempo, finalmente dizia:
“Ah, é... Tenho estas moscas volantes nos olhos, sempre esqueço disso.”
Quando isso acontece pela primeira vez numa aula de epistemologia, você até se pergunta se não é uma forma teatral de ilustrar um ponto. Mas depois de uma dúzia de vezes, percebe que é apenas rlung descontrolado! Esse professor tinha reações automáticas aos pontinhos pretos em seu campo de visão, e sempre levava segundos para se lembrar da própria condição médica.
Žižek não consegue ficar parado nem por um segundo. Precisa coçar o nariz, a orelha, enxugar o suor da testa ou ajustar a camiseta. Raramente se vê um nível tão alto de tiques em um orador público.
Não sei que tipo de medicação ele toma ou quanta cafeína ele consome, mas, entre as olheiras profundas e os espasmos incessantes, me parece óbvio que, para o próprio bem, ele deveria reconsiderar seus compromissos filosóficos. Todo esse teatro não está fazendo bem à sua saúde. E apenas aqueles que hipostasiam alguma abstração intelectual ideal — desprovida de consequência real no mundo — poderiam levar a sério um zumbi convulsivo balbuciando piadas sujas e comparações anedóticas, intercaladas com algumas supostas reflexões filosóficas, despejando jargão e nomeando filósofos a esmo, como se isso fosse uma fonte legítima de conhecimento ou boas ideias.
Se ao menos estivesse claro que tudo isso é uma auto-zombaria — um “foda-se” existencialista absurdo dirigido a si mesmo, à plateia e à academia — então pelo menos alguma verdade estaria sendo preservada.
Como espetáculo, já vimos piores, com certeza.
Mencionei a medicina tibetana em relação à aparência física, aos gestos e à “atividade filosófica” de Žižek apenas porque ele mesmo abriu essa porta ao começar a se meter com o budismo. Na verdade, eu o ignoraria completamente, se não fosse pelo fato de que, de tempos em tempos, alguém me pergunta: “Ei, e as críticas do Slavoj Žižek ao budismo? O que vocês, budistas, têm a dizer sobre isso?”
Confesso que não faço questão de saber nada sobre Lacan ou outros delinquentes do mesmo tipo. Grande parte da filosofia já é complicada, mas os obscurantistas, em particular, não fazem o menor esforço para ser claros, para desenvolver teses coerentes ou sequer para participar de um debate real. O jogo deles é como areia movediça: quanto mais você tenta se mover, mais impossível se torna sair. É lavagem cerebral da pior espécie.
Não estou defendendo julgar um livro pela capa, mas sejamos francos: você não precisa ler tudo para reconhecer besteira. Alguns sinais de alerta (e, do ponto de vista budista, a própria postura de alguém é um deles) já são suficientes. Você não tem tempo infinito, então precisa estabelecer prioridades.
Eis um critério prático: olhe para a pessoa.
Essa parece uma vida que vale a pena ser vivida? Se não, talvez não valha a pena ouvi-la.
Há casos em que um argumento ad hominem faz sentido. Claro, você não julga um matemático, um encanador ou um vendedor de supermercado pela aparência ou pelo comportamento. Mas um filósofo — alguém que supostamente vive a filosofia, que ensina sobre as verdades mais profundas da existência? Você deveria, sim, olhar para o rosto dele como um argumento.
Além do corpo, as alucinações verbais de Žižek parecem existir exatamente para evitar qualquer avaliação real — para nos manter presos no próprio texto, como se a linguagem fosse um fim em si mesma. É exatamente por isso que esse tipo de discurso é tão frequentemente descrito como masturbação intelectual.
O Charlie Sheen da filosofia
É preciso dizer que, no contexto da civilização budista (não usarei “religião”, “filosofia” ou “ciência” para me referir a esse fenômeno transcultural), a maneira particular como Žižek se expressa não seria respeitada. Do mesmo modo que você jamais contrataria um mendigo como consultor financeiro, também não ouviria um balão de vento espasmódico como guia para uma vida bem vivida, para a compreensão do mundo ou para qualquer assunto profundo — especialmente aqueles considerados válidos e dignos de expressão verbal no meio budista (claro que ninguém ficaria ali para ouvir o contrário ou divagações puras e simples).
No contexto budista, até mesmo um charlatão manteria uma boa postura e se comportaria com certa elegância — ele faria isso, sem dúvida, se quisesse ser convincente. Não há espaço para um Charlie Sheen em crise de meia-idade. Aliás, este é um bom exemplo: há uma trágica fascinação por Sheen no auge de sua decadência pública, e essa mesma fascinação parece surgir de forma semelhante no surto žižekiano. Em ambos os casos, vemos a atração pelo exagero pelo over the top, pelo velho sujo safado, pela pura decadência e pelo espetáculo em si.
Às vezes, parece uma aventura boêmia pelos corredores secos da academia, outras vezes, o teatro de Artaud — ou então, simplesmente, Os Simpsons.
Além disso, em particular, entendo um pouco sobre budismo e, por isso, posso tentar avaliar o charlatanismo de Žižek sobre o tema. Muitas vezes, quando ele começa a expor esta ou aquela ideia sobre o budismo, ele já inicia com um aviso suspeito: Ouvi isso de pessoas que conhecem o assunto, pessoas com quem debati.”
Não tenho ideia de quão errado ele pode estar sobre seu guru Lacan, sobre marxismo, sobre Gangnam Style, sobre o filme Projeto X ou sobre Justin Bieber — só alguns dos possíveis temas abordados em uma palestra de Žižek, sempre precedidos por alguma desculpa no estilo: “Não estou tirando sarro, não sou um daqueles intelectuais franceses que vêm aqui para ridicularizar a cultura popular americana... não se trata disso.” Mas, no fim das contas, trata-se disso e não trata, simultaneamente, do jeito que melhor soar aos ouvidos da plateia... If by whiskey... Enfim, sobre esses assuntos, não posso realmente avaliá-lo.
Já sobre o budismo, tenho uma certa clareza sobre alguns dos erros específicos que Žižek cometeu — e, mais do que isso, sobre o tipo de ingenuidade generalizada que demonstra em relação à complexidade e à vastidão da tradição budista. Infelizmente, algo que ele tem em comum com muitos outros pseudo-especialistas.
O budismo não é o que você pensa
O budismo é vasto (em número de textos, no tempo que sobreviveu e na forma como se adaptou amplamente a diferentes culturas ao longo de sua existência) e bastante complexo. No entanto, Žižek, com sua falta de clareza, adiciona pelo menos mais quatro camadas de distorções e complexidade inútil. As coisas que Žižek critica (ou elogia com certa ironia, sem um fundamento epistêmico claro: poderia ser um elogio irônico que se torna um elogio ainda maior exatamente por ser irônico, ou seria efetivamente sarcasmo, etc., ad infinitum — cócegas na plateia hipster) no budismo, quando não estão completamente erradas, geralmente se encaixam em uma das seguintes categorias:
1. Versões puramente acadêmicas e desatualizadas do budismo, com variados graus de pertinência;
2. Versões populares de equívocos sobre o budismo, que ainda assim representam ou demonstram o que ele acaba sendo em suas formas atuais, especialmente no ocidente ou na modernidade;
3. Uma série de simples mal-entendidos sobre o budismo, que poderiam ser comuns em uma plateia de leigos, mas não em um ambiente acadêmico;
4. Uma crítica if by whiskey ao “militarismo zen”, cujas raízes, ironicamente, poderiam ser atribuídas precisamente à penetração do pensamento japonês pelo romantismo alemão — justamente a filosofia hegeliana que Žižek tanto ama — desde o final do século XIX até o pós-guerra.
Obviamente, as três primeiras camadas não estão claramente separadas: ele pode começar uma frase falando sobre o budismo como ele é mais ou menos praticado no ocidente hoje, incluir algumas tiradas sobre a interpretação schopenhaueriana do budismo, misturar um trecho peculiar de um texto clássico interpretado de forma errada e terminar com os maiores estereótipos errôneos sobre o budismo de todos os tempos. Sobre o que o budismo realmente ensina — seus textos raiz, comentários e o que os mestres vivos ensinam — Žižek permanece quase completamente em silêncio, e provavelmente isto ocorre por simples e pura ignorância, e não por qualquer dos problemas verdadeiros de sua atitude, de sua filosofia ou da filosofia que ele aprecia.
E então ele trata com reverência a militarização distorcida do zen, promovida pelo romantismo alemão, como se isso tivesse algo a ver com o que Buda ensinou ou com o que foi praticado no Japão por séculos — antes da degradação do dharma pela ideologia alemã no final do século XIX.
Típico Žižek: “O budismo antigo tem algum valor, mas o Mahayana... o Mahayana é do mal.” Agora, lembre-se: quando Žižek diz que algo é do mal, isso é simultaneamente uma crítica e um elogio. Ele se deleita especialmente em não deixar o ponto crucial claro. Mas por que o budismo Mahayana seria maligno? Por causa do ideal do bodisatva, é claro: alguém que renuncia ao nirvana para trabalhar pelo benefício dos outros seres, o que pode, de certa forma, afastá-lo de seu objetivo final, o nirvana.
Como Žižek interpreta isso como algo maligno? Em sua visão psicanalítica, ele vê isso como um tipo de “adiamento da recompensa”, uma espécie de idealismo mais adequado ao romantismo.
Mas o Mahayana vai muito além disso, sr. Žižek. O Mahayana, em sua raiz, é bem diferente do romantismo pelo qual os ocidentais inicialmente o analisaram.
Da mesma forma que “maligno” pode ser uma “glória do horror sagrado”, o nirvana não é unívoco em todas as tradições budistas. Algumas escolas dizem que o nirvana é um objetivo apenas para escolas inferiores, enquanto outras afirmam que samsara (o ciclo aparentemente infinito de sofrimento em que todos os seres se encontram) e nirvana não são essencialmente diferentes. Até a Wikipedia tem artigos separados para nirvana e iluminação.
O nirvana que Žižek consegue conceber, podemos imaginar, é mais parecido com algo que poderíamos chamar de “heroína conceitual”: algo da mesma natureza das epifanias que ele adora criar e absorver, talvez só um pouco maior (ele chega a se perguntar se não teria alcançado o nirvana em algum momento de suas palestras). Para ele, não há conceito de bodhi mahayanista, que é considerado superior ao nirvana a ponto de os bodisatvas se sentirem enojados só de pensar muito nesse estado inferior.
Sua visão, no mínimo, é um estereótipo popular e comum do nirvana. Ele não faz um exame cuidadoso de toda a infinidade de coisas descritas nos textos budistas que as pessoas frequentemente confundem com o conceito de nirvana. A explicação do nirvana muitas vezes segue uma via negativa, ou seja, ele é explicado principalmente pelo que não é. E ele não é a conquista de uma clareza intelectual ou de um orgasmo diluído, um grande chocolate ou um momento eureka, como às vezes somos levados a crer — até porque, talvez devido à ideologia romântica europeia, esse se tornou o uso comum do termo fora do budismo estrito, onde há um rigoroso controle de qualidade sobre seus significados.
Žižek poderia argumentar em cima dessa banalização do termo, mas, por outro lado, fica claro que ele sequer começa a ter a menor compreensão do conceito de nirvana com base nos textos e práticas budistas. E isso torna sua abordagem, mais uma vez, profundamente enganosa.
Alguém que se desculpa dizendo que entende se tratar de um tema é polêmico, que sabe haver um equívoco moderno e temporário generalizado ou não, sobre o assunto, e ainda assim critica a coisa com base em sua fachada mais caricata e distorcida — por uma questão de decência, ao menos mencionaria como as coisas realmente supostamente são, não é mesmo?
Querer sofrer é parte da definição de sofrimento
Mas quando Žižek fala sobre sofrimento é que ele realmente pisa na bola. Para os psicanalistas em geral, há duas coisas muito problemáticas no budismo: a primeira é o fato de que Buda afirma (e, de acordo com aqueles que tomaram refúgio, dá o exemplo a ser seguido) a possibilidade de libertação total do sofrimento e da neurose. Eu concederia que esse elemento do budismo — a crença de que o potencial máximo dos seres é a liberdade total de todas as formas de aprisionamento e hábito — pode ser tomado como um ponto de fé, um aspecto particularmente religioso do budismo.
O segundo problema que a psicanálise tem com o budismo é a chamada demonização do sofrimento. Žižek afirma: “Há pessoas que gostam de sofrer” — e, na verdade, ele chega a dizer que a maioria das pessoas, do ponto de vista psicanalítico, realmente gosta de sofrer!
Mas, além disso, de tempos em tempos surge um psicanalista que diz: “Sem sofrimento, como o artista X teria criado a obra de arte Y? Em uma cultura budista, nunca teríamos a arte de Z!”. A confusão em que todas essas pessoas se envolvem está no fato de não entenderem o uso muito peculiar da tradução um tanto equivocada do termo dukkha como sofrimento. Devido a muitas traduções antigas e hábitos mentais criados por essas traduções, ainda usamos a palavra “sofrimento” para falar sobre dukkha, embora, em geral, qualquer palestra introdutória sobre budismo esclareceria ao público o significado expandido dessa palavra. Ela não se refere apenas a descontentamento, dor, angústia, tristeza e desconforto.
Além disso, dukkha não é apenas o (verdadeiro) fato de que nada realmente nos traz conforto. Dukkha é, acima de tudo, o fato de que nossas expectativas e perspectivas, nossas visões do mundo e das coisas em geral nos traem, repetidamente. Temos angústia, dor e falta de conforto nisso, e a melhor palavra para descrever talvez seja insatisfatoriedade. Mas o ponto principal é que, quando você não reconhece as armadilhas, nada muda. E a maioria das nossas felicidades é da mesma natureza — elas são amargas no fim, mesmo que sejam um pouco doces no caminho. Até nossa aparente satisfação, a falta dela, nosso masoquismo, quaisquer justificativas do tipo “eu nunca faria isso de novo” ou “eu faria exatamente a mesma coisa”, tudo isso faz parte de dukkha — e, às vezes, do dukkha composto, que é aquele que não se reconhece como dukkha (o mais comum).
Então, quando Žižek diz que nem todos querem parar de sofrer, ele precisa reconhecer que sim, existem masoquistas no mundo, e o budismo aceita isso. Mas, como dizia o dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, o verdadeiro sádico é aquele que se recusa a bater no masoquista. Não querer o fim do sofrimento é um tipo de sofrimento muito reconhecível para o budista. É apenas uma ignorância muito comum, ainda que um pouco mais acentuada. Se você deseja se tornar budista, então deve tentar reconhecer o sofrimento e evitá-lo sistematicamente, sempre que for possível — mas os budistas reconhecem que muitos seres não veem o budismo como algo particularmente interessante, e alguns até acreditam que gostam de sofrer. Isso é, na verdade, muito comum e amplamente descrito. Muito mais comum, de fato, do que querer abandonar o sofrimento à maneira budista!
Isso é tão difundido e reconhecido como tal que chega a ser tolice ter que apontá-lo para um adulto supostamente instruído.
De certo modo, é quase um milagre que algumas pessoas tenham a lucidez de se aproximar do budismo e pensar “sim, isso faz sentido” — o próprio budismo encoraja um certo orgulho peculiar sobre isso, e compaixão, é claro, por todos aqueles que dizem “bem, mas eu gosto de sofrer”, e por aqueles que buscam os tipos mais estranhos de felicidade (palestras de Žižek? autoasfixia erótica? Cinnabon? shows do Nickelback?), até mesmo em conceitos absurdos como “não querer a verdadeira felicidade está tudo bem”. Abaixo daqueles que carecem de uma visão coerente, estão aqueles que têm visões errôneas. Estes sofrem mais, precisamente porque são mais ignorantes: às vezes nem reconhecem o sofrimento e não admitem o desejo (ou a possibilidade) de se livrar dele. Muito comum, de fato.
As pessoas buscam felicidade na tortura, na vingança, na mesquinhez, em Hegel, em saudações nazistas. Coisas mundanas do dia a dia, muito banais, como apontaria nossa amiga Hannah Arendt.
Além disso, o primeiro dever de casa que a maioria de nós recebe ao começar a praticar é exatamente purificar essas noções: o que é sofrimento, eu realmente o quero?, como evitá-lo. Como budista, você deve trabalhar nisso. Deve levar tempo para alcançar e internalizar essas descobertas. Elas não são nada comuns! Elas não são “naturais” para a maioria das pessoas. Claro que nossa tendência habitual é não reconhecer isso pelo que realmente é, e assim continuamos perseguindo o sofrimento, exatamente como um alcoólatra ou um viciado em drogas. Se não fosse assim, todo o aparato inicial do budismo — recomendando contemplações sobre tais tópicos e deixando clara a necessidade de chegar a uma conclusão experiencial sobre isso — seria redundante. Há muito trabalho nisso, depois de você se tornar budista, depois de tomar refúgio, depois de acumular centenas de horas de meditação. Mesmo depois de alcançar algumas realizações. Isso pode até ser “coisa de iniciante”, mas continua por anos, ou vidas.
O que Žižek está dizendo é quase o mesmo que afirmar que o budismo não tem como explicar os vícios — o que, se me permite dizer, constitui uma parte enorme do discurso budista. Hábito, formação de hábitos, como lidar com hábitos, como superar maus hábitos, como cultivar bons hábitos, como transcender hábitos, bons ou ruins.
Quando o Dalai Lama nos diz que todos os seres querem cessar o sofrimento e encontrar a felicidade — e creio que seja esse o fragmento que levou Žižek a alegar que isso não é ou não deveria ser assim — Žižek não percebe como Sua Santidade está sendo, do ponto de vista budista, bastante provocativo e contraintuitivo!
Esse tipo de afirmação é bem incomum no budismo. Com isso, o Dalai Lama está dizendo três coisas: principalmente que todos os seres são basicamente iguais quando falamos de necessidades fundamentais; que todos os seres sofrem, têm problemas, se tornam insatisfeitos; e que, no fundo, esse anseio que todos os seres têm é espiritual. Mas ele diz isso de uma maneira peculiarmente neutra: ninguém negaria que quer um copo de água quando está com sede (mesmo um asceta deseja certas formas muito materiais e básicas de felicidade). Um verdadeiro masoquista recusaria comida ou água. Se se você bebe água, está buscando saciar um reflexo muito íntimo de felicidade.
De certo modo, todos sentem sede e querem se livrar desse desconforto. Pessoas muito raras são capazes de, em nome de algum objetivo idealista, com muita esperança e expectativa, parar voluntariamente de beber água até morrerem. Os animais não fazem isso. Mas o Sr. Žižek parece pensar que estamos falando de algo completamente diferente.
Se estamos falando de um masoquista — ou também de uma pessoa comum —, é exatamente por confusão, sofrimento, bagunça, dor e problemas que ele se esforça... tanto... em busca dessa felicidade tão estranha e peculiar. Nada tão estranho assim, se olharmos a situação com atenção.
Se alguém persegue felicidade na dor física — segundo o Dalai Lama, ele também busca felicidade, Podemos até dizer que isso é estranho, se não nos importamos de participar do kink shame. Mas isso não é estranho ao ponto de nos alienar de dukkha.
Esse é o argumento mais furado de um filósofo enfiado em poltrona que se pode conceber. “Dukkha? Ah, mas existem masoquistas.” Eles aplicam princípio da caridade e buscam ver coisas profundas até em reality-shows, mas ainda assim argumentam como se os budistas fossem idiotas do tipo mais primitivo.
Autores irrelevantes
Então, Žižek cita D. T. Suzuki, invocando o conhecido argumento de que a meditação pode criar assassinos melhores — uma alegação enraizada em distorções militaristas do budismo. Os meditadores, segundo ele, não veem matar como matar, mas como um ato estético: uma lâmina afiada passando por um pescoço macio como manteiga. Simplesmente átomos interagindo com átomos, sem emoções: “o sofrimento é apenas uma ilusão” como um remédio para aqueles que sofrem de ilusão.
Dois pontos aqui: Primeiro, é verdade que, particularmente no Japão, mas em menor grau em outros lugares, o budismo foi distorcido e apropriado para a guerra e a violência. A meditação precede o budismo e pode, de fato, ser cooptada para propósitos seculares ou não virtuosos. Uma pessoa pode meditar para se tornar melhor em videogames, por exemplo. A meditação aguça a mente, e essa clareza pode ser aplicada a qualquer empreendimento — seja ele benéfico, neutro ou prejudicial.
Mas isso não é o que o budismo ensina. Trata-se de uma distorção bem documentada do budismo, especialmente no Japão da era militarista pré-guerra. No entanto, Žižek parece confundir essa distorção com o budismo como um todo. Isso convenientemente se alinha com sua fascinação hegeliana pelo contra-intuitivo e pelo grotesco, com seus argumentos no estilo if by whiskey. O que Žižek não percebe é que esse “Zen” militarizado surgiu justamente sob a influência de ideologias europeias — particularmente o Romantismo alemão e o pensamento hegeliano — sobre os intelectuais japoneses no final do século XIX e início do século XX.
Segundo, quem ainda lê D. T. Suzuki como uma fonte confiável sobre budismo? Certamente não os budistas. Com a vasta e rigorosa produção acadêmica sobre budismo surgindo no Ocidente desde os anos 1990, por que confiar em uma figura tão controversa e ultrapassada? Suzuki, afinal, era cristão e nunca estudou ou praticou budismo formalmente. Seus escritos são profundamente influenciados pelo Romantismo alemão — o mesmo veneno ideológico que causou devastação tanto na Europa quanto no Japão. E ele é semelhante a Heidegger, no que participou e foi conivente com o estado totalitário e com o nacionalismo fascista. Ele é basicamente um japonês fascista escrevendo sobre budismo de uma perspetiva de filosofia alemã, e repito: sem nenhum treinamento ou educação formal no budismo!
Žižek poderia argumentar que a influência de Suzuki persiste no budismo popular ocidental. Isso pode ser verdade em regiões como o Brasil, onde há poucas traduções budistas disponíveis. No entanto, em escala global, as obras de Suzuki pertencem apenas à história das distorções sobre o budismo. Criticar o budismo usando Suzuki é como alegar expertise na área após ler Blavatsky, Schopenhauer, Lobsang Rampa ou Kerouac — ou depois de assistir Sete Anos no Tibet, Memórias de uma Gueixa ou Horizonte Perdido. Essas obras e autores, assim como Suzuki, tornaram-se artefatos da fantasia orientalista.
Se alguém insiste em criticar a representação superficial e popular do budismo ou as versões simplificadas ensinadas em cursos “orientalistas” de baixa qualidade, nós, como budistas, corremos o risco de perder a oportunidade de esclarecer os fatos. Esse “espantalho” do budismo não é um adversário digno — especialmente quando construído com deturpações e via autoridades inventadas.
As distorções militaristas do Buddhadharma — particularmente no Japão — foram amplificadas e moldadas por ideologias europeias que se tornaram populares entre os intelectuais japoneses no final do século XIX. Dado isso, não é surpreendente que Žižek se fixe nelas. D. T. Suzuki — novamente, um cristão e fascista que nunca estudou ou praticou o budismo —, por exemplo, desenvolveu seu suposto “estilo Zen” profundamente influenciado pelo Romantismo alemão — especialmente pela ideologia regressiva de Hegel. As mesmas distorções e violências que Žižek tanto louva quanto condena e a que se entrega estão enraizadas e são reforçadas pelos mesmos ideais eurocêntricos que ele reconhece em seu próprio modo de pensar. Nada disso, estritamente, tem a ver com as muitas formas de budismo que nunca passaram por essas distorções, e nem mesmo com as formas japonesas originais que sofreram essas agressões colonialistas.
A vacuidade e o capitalismo bombado de esteróides
Mesmo considerando a irrelevância de D. T. Suzuki, a crítica de Žižek ao militarismo Zen é aceitável. Ela tem mérito porque destaca um aspecto historicamente verdadeiro do budismo — o militarismo budista, a ética e a estética samurai dentro do milieu budista, etc. — e reflete a vulnerabilidade do budismo à influência ocidental. Žižek também toca na contemplação do que a vacuidade pode significar ou, mais precisamente, como pode ser mal interpretada.
Ele menciona que, no mundo de hoje — onde o mercado de ações é governado por algoritmos e tudo é tão “virtual” — o budismo é a ontologia de fato (ou talvez mais precisamente: não-ontologia, ou “nontologia”1O budismo nega a possibilidade de uma ontologia como uma tentativa para sempre malfadada de imperialismo filosófico perpetrado pela mente ignorante.) que melhor se alinha com a mentalidade dos corretores e empresários que precisam navegar por essa volatilidade. Esse argumento, embora enquadrado como uma crítica marxista, também carrega um sutil elogio, como Žižek frequentemente faz. (Ele também menciona Steve Jobs, cujas conexões com o budismo e a filosofia asiática são mais uma curiosidade passageira do que algo substancial. Embora relevante para a presença do budismo no imaginário popular — o aparente alvo da crítica de Žižek — isso dificilmente tem um significado mais profundo.)
A principal afirmação de Žižek é que o budismo substituiu o socialismo como refúgio espiritual e ideológico das classes média e alta — uma observação válida. No entanto, como religião, o budismo indiscutivelmente supera o marxismo, um fato que os marxistas não precisariam se esforçar muito para admitir. (Já é amplamente sabido que o marxismo frequentemente funciona ironicamente como uma religião substituta, do mesmo modo que Lacan habilmente explora o anseio religioso para vender orgasmos epistêmicos.) Ironia das ironias, Sua Santidade o Dalai Lama — ele próprio exilado pelos maoístas e ativista de uma população cultural, econômica e fisicamente devastada pelo confucio-marxismo chinês2Outro exemplo trágico de imperialismo cultural: uma ideologia europeia, mais uma vez ligada a Hegel, fundida com vertentes distorcidas de sistemas de pensamento orientais, culminando em genocídio, fome e destruição cultural do outro lado do mundo. — declara-se abertamente socialista.
Do ponto de vista budista, a competitividade é uma das cinco principais kleshas (emoções aflitivas): indiferença, apego, aversão, competitividade e contentamento falso e autossatisfatório (frequentemente chamados de ignorância, desejo, raiva, inveja e orgulho). Embora o capitalismo possa oferecer certos benefícios, sua dependência central na exploração e na competitividade desenfreada, aliada ao foco individualista e autocentrado na eficiência (seja ela social, mercadológica ou pessoal), é fundamentalmente incompatível com o budismo.
Uma das principais características do capitalismo — a publicidade — é diretamente oposta ao treinamento mental budista. Se os budistas influenciassem políticas públicas, sem dúvida restringiriam a publicidade invasiva (o que, pode-se argumentar, inclui toda publicidade). A publicidade sequestra a atenção e aprisiona a mente. Sendo o budismo o sistema mais avançado para treinar a atenção, ele naturalmente rejeita tais intrusões manipuladoras. Embora os debates sobre a visão budista da liberdade de expressão possam ser complexos, a “liberdade de expressão do capital” certamente receberia um sonoro não. Igualdade, afinal, implica voz igual — não uma voz amplificada para o grande capital, sobre dinheiro e para o dinheiro. Embora os budistas não se oponham inerentemente à riqueza, preocupam-se profundamente com a influência corruptora do dinheiro na mente e na sociedade.
O budismo pode certamente prosperar em ambientes dinâmicos e instáveis, mas não é inerentemente adequado à volatilidade. Embora se adapte a todas as circunstâncias, a maioria dos praticantes prefere condições mais lentas e estáveis — como as da Índia Clássica — que frequentemente são mais propícias à prática e ao estudo profundos. Embora os budistas possam navegar por flutuações de mercado ou instabilidades sociais, essas condições não são ideais, como Žižek sugere. Em ambientes caóticos, degenerados ou acelerados, o budismo assume um papel mais revolucionário, fornecendo força por meio da compaixão e da clareza.
Reduzir o budismo a uma mera resposta à volatilidade, como Žižek insinua, ignora sua profundidade e resiliência histórica. Atravessando 2.600 anos em diversas culturas, o budismo é uma das tradições mais adaptáveis conhecidas pela humanidade. De acordo com os próprios mestres budistas, pode levar mais dois ou três séculos para que ele se integre completamente ao Ocidente ou ao mundo moderno. Sua longevidade e flexibilidade demonstram que ele é muito mais do que uma moda passageira.
A crítica budista ao capitalismo não impede sua capacidade de penetrar em qualquer ambiente. Onde existe sofrimento, o budismo vê potencial de transformação. Seja em contextos de poder mundano, dinheiro ou degradação, um praticante budista pode atuar habilmente, utilizando upaya (meios hábeis). Os grandes bodisatvas — aqueles que Žižek descarta como deficientes psicanalíticos — aventuram-se nos territórios mentais mais sombrios para libertar os seres. Assim, podemos encontrar “cripto-bodisatvas” em todos os níveis da sociedade: cripto-animais (animais que, na verdade, são seres iluminados), cripto-prostitutas, cripto-corretores de ações, cripto-cripto-bros e assim por diante.
Žižek pode ver ironia aqui, mas o budismo enfatiza o engajamento prático em vez de ideais abstratos. O praticante trabalha com o que é viável, usando os recursos disponíveis para o benefício de todos. É um processo semelhante ao do MacGyver — desarmando venenos mentais com qualquer ferramenta à disposição. O budismo se destaca em reciclar atitudes, conceitos e situações, descobrindo benefícios potenciais em condições aparentemente tóxicas. O princípio ativo de uma planta venenosa pode ser medicinal. Essa abordagem pragmática, longe de ser passiva, corporifica o engajamento total.
Enquanto o marxismo defende ideais utópicos abstratos — frequentemente criticados pela direita como tentativas de “imanentizar o eschaton”, fazer da terra um paraíso ou trazer o céu para a terra, o que é considerado pouco realista — o budismo permanece enraizado na realidade. Ele rejeita aspirações carolas no estilo “Grande Salto Adiante” ou “ópio do povo” em favor de um caminho prático para a libertação.
Quanto ao jargão ou balbúcio lacaniano... em geral estamos melhor sem a interferência de coaches ou picaretas.
Dito isso, o budismo oferece inúmeras possibilidades para o engajamento revolucionário, nascido da tensão entre confusão e clareza. Ele opera como uma rede de causas e efeitos, gerando oportunidades de transformação em inúmeros mundos.
O budismo surge de um espaço livre de ideologia, mas utiliza habilmente ideologias temporárias quando necessário. Sua base é a união de uma mente meditativa refinada e estável, estudo empírico e inferência racional. Com essa clareza, ideologias podem ser adotadas, descartadas ou recicladas conforme a situação exige. Uma mente honesta e desiludida irradia contentamento, transformando tudo e todos ao seu redor.
Três tipos de seres no caminho da iluminação
Žižek também critica a polêmica budista sobre os três tipos de bodisatvas, expressando preferência pelo que ele percebe como a visão Theravada, onde não há essa coisa de renunciar ao nirvana em benefício dos seres.
Os três tipos de bodisatvas são como um rei, capitão ou pastor. O bodisatva que é como um rei busca primeiro a iluminação, acreditando poder melhor ajudar os outros a partir de uma posição de força. O bodisatva capitão alcança a iluminação ao lado de todos os seres. Finalmente, o bodisatva pastor guia todos os seres à iluminação antes de alcançá-la ele próprio. De acordo com algumas escolas, o bodisatva pastor — por ser o mais altruísta — é ideal para aqueles que aspiram ao caminho mais elevado.
O problema de Žižek surge de um mal-entendido sobre a distinção entre aspiração e aplicação na prática budista. Embora a aspiração possa parecer contraintuitiva ou impraticável, ela serve como um antídoto para hábitos profundamente enraizados. Por exemplo, o ideal do bodisatva pastor contrabalança a tendência habitual ao egocentrismo, mesmo que a realidade última não se alinhe com a interpretação literal de haver seres em várias posições de beneficiar e ser beneficiados.
Uma metáfora comum ilustra esse princípio: um pedaço de papel enrolado não pode ser aberto imediatamente. Ele primeiro precisa ser enrolado na direção oposta e deixado assim por um tempo. Da mesma forma, aspirações contraintuitivas ajudam a desfazer tendências mentais prejudiciais. Embora alguém possa intelectualmente reconhecer uma verdade — por exemplo, que fumar faz mal — o hábito muitas vezes se sobrepõe à intenção. Esse fenômeno, conhecido pelos gregos como akrasia, destaca a elasticidade e o recondicionamento gradual necessários para transformar a mente.
Mesmo considerando que você deva se esforçar para pensar nos outros como mais importantes do que você mesmo, no final das contas, você não é fundamentalmente diferente de ninguém. Portanto, você não “merece menos”, nem deve se colocar absolutamente atrás dos outros. No entanto, para fins de treinamento mental, pode ser importante se colocar conscientemente um pouco atrás, temporariamente — como dobrar um pedaço de papel na direção oposta para endireitá-lo.
Esse tipo de confusão sobre as polêmicas budistas — misturando-as com a psicanálise — não ajuda ninguém. Primeiro, estuda-se o assunto; depois, compara-se com outros. Se você mistura ideias enquanto estuda, sem antes estabelecer uma compreensão clara do tema que pretende analisar ou criticar, nunca alcançará clareza. O escopo da polêmica também parece mal compreendido. Ela se refere principalmente ao budismo tibetano, embora Theravadins e Mahayanistas tenham discussões semelhantes em outros níveis.
Apego egoísta e apego comum
Žižek teimosamente retrata o conceito budista de desapego como uma espécie de indiferença, algo que ele vê como um problema que nós — vindo de uma tradição judaico-cristã — não precisaríamos necessariamente adotar. Ele liga essa ideia ao vazio militarista de D.T. Suzuki, que já mencionei antes.
Tanto do ponto de vista científico quanto anedótico, a empatia é consistentemente mais alta entre meditadores budistas. O problema, então, não está no budismo em si, nem em casos isolados de interpretações equivocadas entre budistas, mas sim em um mal-entendido fundamental sobre o conceito budista de apego.
Uma das três principais aflições mentais (comumente traduzida como “ignorância”) é melhor compreendida como alienação emocional ou uma sensação de separação, em vez de uma simples falta de conhecimento. O que não é compreendido — essa ignorância — é a natureza interdependente de todas as coisas e seres. O apego surge porque vemos erroneamente a nós mesmos e aos outros como entidades separadas. Da mesma forma, a raiva ou aversão surgem dessa mesma ignorância, mas com um foco no medo e na culpa.
A percepção ocidental comum é que os budistas aspiram a uma qualidade de indiferença. No entanto, a característica mais citada por aqueles que descrevem mestres budistas proeminentes é exatamente o oposto: calor humano.
O apego, em termos budistas, é o reforço artificial da separação. Ironicamente, isso soa bastante psicanalítico. No treinamento da mente, começa-se deslocando o apego de si mesmo para os outros. Passo a passo, o apego é purificado da ignorância, transformando-se em empatia e compaixão.
Abordagens mais frias ou cirúrgicas da compaixão também existem. Veja, por exemplo, a história budista de Atisha, que limpou larvas da carne ferida de um cachorro com a língua para evitar machucá-las enquanto ainda salvava o cão. Esse tipo de envolvimento apaixonado com interesse genuíno pelo bem-estar dos outros é altamente valorizado no budismo. Ninguém precisa replicar ações tão extremas, mas a ideia permanece: a compaixão deve ser apaixonada e totalmente presente.
Pontinha do iceberg
Além das distorções de Žižek, existe um vasto corpo do budismo que lhe é desconhecido. Também é desconhecido para a maioria de nós no Ocidente. Alguns estudiosos estimam que apenas 5% dos textos clássicos budistas foram traduzidos para línguas ocidentais (e alguns colocam esse número mais próximo de 1%). Por exemplo, Žižek parece completamente alheio à tradição indiana dos mahasiddhas — uma linhagem rica, cujas figuras têm poderes mágicos que nem sequer são seu aspecto mais fascinante.
Žižek, como alguns comentaristas ocidentais, talvez tivesse criticado os diversos contextos sociais desses mahasiddhas: havia reis, monges, prostitutas e até mestres gays entre eles. Talvez ele até se identificasse com um mahasiddha comunista de olheiras profundas e tiques nervosos que trabalha para a Stasi ou algo assim. No entanto, a diversidade não é o foco de Žižek — ela carece do impacto chocante que ressoa com o público pós-moderno. É algo mais direcionado aos liberais que comem couve do que aos supostamente descolados e intelectuais hipsters provocadores que Žižek costuma atrair.
Além disso, Žižek ignora completamente discussões mais profundas sobre política budista, linguagem e outros temas. Tudo isso lhe escapa por completo. Se tivesse feito o dever de casa, talvez tivesse encontrado argumentos melhores para a crítica — ou pelo menos evitado sua apresentação datada e caricata da compaixão e do vazio, que ele evidentemente herdou de um acadêmico japonês pouco confiável e de leituras distorcidas de Schopenhauer/Nietzsche sobre dukkha.
“O problema do mal” é incompatível com o “sistema operacional” budista
Žižek e sua tradição são profundamente obcecados com o conceito de mal — uma ideia que é amplamente irrelevante no budismo. O problema do mal é, acima de tudo, uma neurose judaico-cristã (ou pelo menos teísta). No budismo, causar dano a outros inevitavelmente resulta em sofrimento para o próprio agressor — como alguém que bebe veneno por não ter lido o rótulo.
Do ponto de vista budista, o que chamamos de mal — mesmo atrocidades como o Holocausto — são apenas manifestações em grande escala da mesma ignorância banal que leva a pequenas corrupções diárias, como palavras cruéis ou preguiça. A questão não é trivializar grandes danos, mas enfatizar que até as aflições menores devem ser levadas muito a sério.
Tente explicar a noção ocidental de mal a um professor budista que não tenha familiaridade com a cultura ocidental. Você passaria dias tentando articular algo que, no Ocidente, é encarado como óbvio — seja como uma força externa ou uma característica intrínseca do mundo. O mal é uma condição inata da mente humana ou apenas uma confusão temporária — um subproduto de nossa liberdade natural? De qualquer forma, você provavelmente deixaria esse professor perplexo com o emaranhado filosófico da mente ocidental.
Žižek também se fixa no dung chen — o trompete longo tibetano—interpretando sua frequência grave e profunda como um símbolo de um “lado sombrio” do nirvana. No entanto, professores tibetanos afirmam explicitamente que divindades ou cerimônias iradas não têm nada a ver com o mal, com desvirtude, falta de compaixão ou emoções aflitivas; elas são expressões extremas de compaixão. O próprio dung chen, frequentemente descrito como soando como “dragões acasalando”, é usado em procissões e cerimônias — não como uma manifestação sinistra, como Žižek sugere. Falar coisas assim é absolutamente uma falta de sensibilidade e contexto cultural.
Esse abuso da linguagem é talvez a maior falha de Žižek. Ele poderia ter explorado pesquisas sobre budismo tibetano e violência ou até investigado conflitos monásticos travados em um nível “espiritual”. Em vez disso, reduz fenômenos culturais complexos a devaneios ocultistas dignos de conversa de bar, no estilo “os nazistas foram ao Tibete em busca de armas espirituais.”
O curioso sobre o Tantra budista é que ele se concentra na transformação de aflições mentais — o que significa que não demoniza nem mesmo os aspectos da mente que desafiam o Mahayana ou parecem “malignos”, como as aflições básicas que descrevi mais acima. O próprio Tantra é vastamente complexo e tem uma longa história de polêmicas. Reduzir toda essa profundidade a um comentário sobre o som de um instrumento ritual tibetano não é apenas irresponsável, mas puro sensacionalismo.
Uau, como ninguém tinha pensado nisso? Criticar o budismo, claro!
A motivação de Žižek ao criticar o budismo também parece advir, pelo menos parcialmente, do quão incomum é esse tipo de crítica. O budismo tem uma reputação pública excepcionalmente boa: as críticas que encontramos costumam ser estéticas (brega, fora de moda ou excessivamente na moda — Žižek brinca com todas essas possibilidades) ou então casos raros e vergonhosos, como brigas entre monges ou condutas sexuais inadequadas dentro da sangha.
Quando o budismo surge em uma conversa — e isso já é um pouco žižekiano por si só —, as pessoas algumas vezes levantam pequenas objeções aqui e ali. Afinal, adicionar um pouco de atrito sempre deixa a discussão mais animada, não é?
Žižek, como bom entertainer, evita o óbvio e vai direto para as críticas mais improváveis. Essa estratégia agrada seu público hipster com polêmicas de todo tipo — especialmente as fáceis, mesquinhas e artificiais.
Este bramido foi parcialmente inspirado por dois vídeos de Žižek onde ele divaga sobre sionismo, sexo, Gangnam Style, Justin Bieber, o Papa e o budismo e sobre a ética budista e o espírito do capitalismo global. O texto foi originalmente escrito em português em dezembro de 2012 e foi então expandido e reescrito em inglês. Acabei alternando alterações entre os dois idiomas ao longo dos anos, até que se tornaram mais ou menos o mesmo texto. As atualizações mais recentes foram feitas em março de 2025.)
Devo confessar que este texto não tem um tom ou uma forma particularmente “budista”. Críticas desse tipo são incomuns. Há uma anedota deliciosa sobre a primeira palestra de Sua Santidade o Dalai Lama no Ocidente, na Polônia, durante os anos 1970. A primeira pergunta que um ocidental lhe fez foi: “O que o senhor acha dos livros de Lobsang Rampa?” Sua resposta incorporou o Caminho do Meio e a ética budista: “Bem, acredito que seus livros não sejam 100% confiáveis.”
Žižek parece ser uma espécie de Lobsang Rampa da filosofia ocidental: popular, grotesco, sensacionalista — e equivocado. O que, então, pode ser dito sobre suas opiniões a respeito do pensamento asiático?
Não guardo rancor contra Žižek. Na verdade, acho-o bastante divertido. Por trás deste bramido há um elogio mal disfarçado. Não sou fanboy de filosofia, mas gostaria que os acadêmicos elevassem o nível da discussão sobre budismo. Há alguns raros pontos brilhantes nos Estudos Asiáticos, especialmente entre budistas assumidos — em alguns casos, detentores de linhagem — que trabalham “por dentro” como agentes secretos. Mas, no geral, o ruído é alto demais para beneficiar o budismo ou a sociedade em geral. Essa é minha opinião sobre o “budismo acadêmico.”
Algumas pessoas me chamam de Padma. Um comentário que recebi uma vez nas redes sociais sobre meu nome e este artigo dizia: “O mais interessante de tudo: o autor se chama Padma, quase como Padmé Amidala de Star Wars, essa que é a mais budista das franquias de cinema e um alvo frequente das críticas de Žižek. Não daria para inventar um troço assim.”
Eu não considero Star Wars budista de forma alguma, embora os próprios produtores afirmem ter se inspirado em uma mistura de ideias da Nova Era — incluindo versões deturpadas do budismo. Também pessoalmente não sou fã de Star Wars.
“Padma” é sânscrito para “flor de lótus” e continua sendo um nome comum para meninas na Índia hoje, assim como “Margarida” foi um dia um nome popular em português. Associá-lo a Star Wars em princípio já revela um sintoma de certo deserto intelectual. Eu — um homem cis — recebi esse nome de um professor Tibetano no início de 1998, mais de um ano antes do filme de Star Wars com Padmé Amidala estrear nos shoppings e megaplexes. “Padma” aqui é o lótus, mas também se relaciona com Padmasambhava, Guru Rinpoche, a figura central na tradição budista que eu pratico.
No entanto, o comentário desse leitor aleatório de Žižek é, de certo modo, emblemático do próprio processo de pensamento do eslavo: fragmentado, mal fundamentado e de mau gosto. Beira o pensamento ocultista, uma espécie de apofenia conspiratória onde pontos desconexos são ligados por pura insanidade.
Mais uma vez, as pessoas no Ocidente apropriam certos elementos do budismo — geralmente de forma distorcida e diluída — e então outro ocidental aparece para criticar esses mesmos elementos mal apropriados como se eles realmente representassem o budismo. É exatamente isso que Žižek faz ao reclamar das visões de D. T. Suzuki.
Como se o meu próprio nome, da forma como me foi dado, tivesse qualquer coisa a ver com Star Wars! Parem de atacar o espantalho — ele não passa de um boneco malfeito!
Para tomar emprestadas as palavras insuperáveis de Belchior: “Sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e sem parentes importantes...” Moro em Porto Alegre e tenho tentado praticar o budismo pelos últimos 28 anos.
Realmente não daria para inventar um troço assim.
◦ O zen canalha de Steve Jobs, texto em tzal.org (há uma versão em inglês.)
◦ O budismo do fascista diferentão, vídeo no Canal Tendrel
◦ Zen e fascismo, vídeo no Canal Tendrel
◦ Qual o problema com Alan Watts?, texto de Padma Dorje em tzal.org
1. ^ O budismo nega a possibilidade de uma ontologia como uma tentativa para sempre malfadada de imperialismo filosófico perpetrado pela mente ignorante.
2. ^ Outro exemplo trágico de imperialismo cultural: uma ideologia europeia, mais uma vez ligada a Hegel, fundida com vertentes distorcidas de sistemas de pensamento orientais, culminando em genocídio, fome e destruição cultural do outro lado do mundo.
 tendrel
tendrelLógica modal e budismo
Uma resposta a seguinte colocação: “O conceito de mundo possível na lógica modal não refere-se a mundo no sentido físico. Dependendo da aplicação, um mundo possível pode ser uma situação, cenário, contexto, sistema, e por aí vai. É um conceito puramente abstrato. A teoria não requer que os mundos possíveis sejam algo criado por uma entidade superior, logo isso não é uma premissa da lógica. Além disso, penso que não tem muito sentido em falar de premissas da lógica, visto que premissas são objetos sujeitos à lógica e não o contrário.”
 tendrel
tendrelFofoca e sensacionalismo com o darma
Um “mostra e conta” com algumas relíquias pessoais do darma, e uma reflexão sobre a distorção dos ensinamentos por meio dos incentivos do jornalismo e das redes sociais.
 tzal.org
tzal.orgBodisatva Petralha
Nagarjuna, no séc III, e direitos humanos para humanos dir... seres sencientes atrapalhados de modo geral. Pergunta aí se Jesus, que era excelente hippie abraçador de árvores esquerdinha e tudo mais, chegou a advertir sobre cadeias privadas — Nagarjuna avisou: era ainda mais diretório acadêmico petralha. (Trechos da Guirlanda Preciosa, versos 330 a 338).
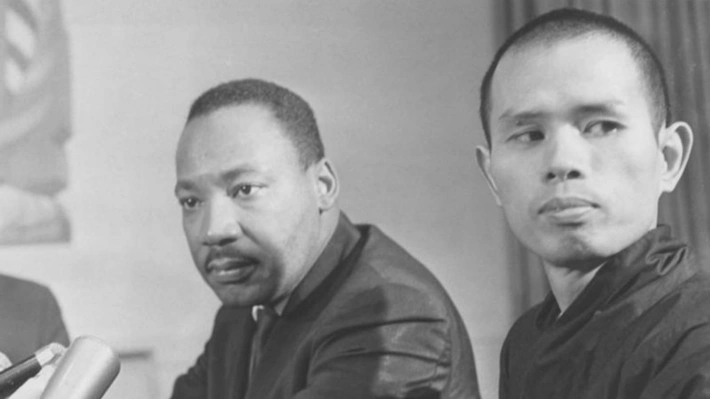 tendrel
tendrelO budismo é contra os direitos humanos?
É óbvio que o budismo é a favor de direitos humanos, como poderia ser diferente? Porém, atualmente surge um discurso anticolonialista no budismo que desafia a noção de direitos humanos, como é isso?

Grupo de Whatasapp (apenas anúncios)
todo conteúdo, design e programação por Eduardo Pinheiro, 2003-2024
(exceto onde esteja explicitamente indicado de outra forma)






